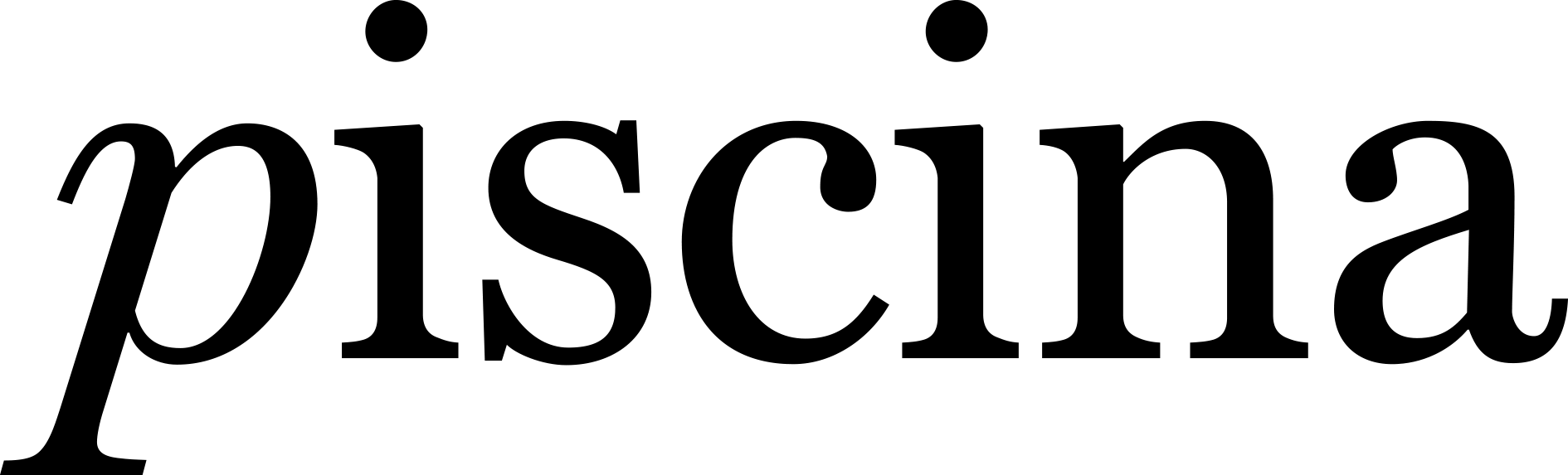A dança labiríntica de Anne Imhof
Anne Imhof, Natures Mortes (2021), vista da exposição, Palais de Tokyo, Paris. Foto: Andrea Rossetti, Cortesia da artista, Galerie Buchholz e Sprüth Magers. Via Artviewer.
Anne Imhof (1978), é alemã de Giessen, uma pequena cidade próxima a Frankfurt, onde mais tarde estudaria artes. Sua exposição individual Natures Mortes — ¨Natureza Morta” em tradução livre, encontra-se em exibição no Palais de Tokyo, em Paris, até 24 de outubro, 2021.
A tradição de natureza morta é associada à palavra Vanitas, que em latim quer dizer vazio: é uma alegoria da morte em si, com M maiúsculo, e popularizada na pintura pela presença de crânios e outros objetos simbólicos marcadores do tempo, remetendo à mensagem de que a vida sempre passa e as paixões e vaidades ficam.
Em alemão, a tradução do título da mostra seria stilleben, ou still life, em inglês. É interessante perceber que, quando adaptada para as línguas de origem germânica, usa-se a palavra "vida" (still life), em vez de morte (natureza morta, natures mortes). A artista se utiliza dessa ambiguidade literal, linguística e sensorial para construir seu projeto no espaço expositivo.
Foi dada a ela ¨carta-branca¨ para criar nos 13.000 metros do Palais de Tokyo. O projeto Carte Blanche (carta branca, em francês) criado em 2008 pelo então diretor da instituição Marc-Olivier Wahler, convida a cada ano um artista para produzir uma exposição que ocupe todo espaço do museu, e na qual atuam como organizadores, envolvendo diferentes linguagens para fazer da sua visão, realidade. Ugo Rondinone foi o primeiro artista a participar do programa, em 2008 e Tino Sehgal foi o último, em 2018.
Anne Imhof, Natures Mortes (2021), vista da exposição, Palais de Tokyo, Paris. Foto: Andrea Rossetti, cortesia da artista, Galerie Buchholz e Sprüth Magers. Via Artviewer.
Num misto de fúria e melancolia, surge um desejo pulsante de afirmação do mundo tal qual ele é, sem rodeios. Assim, Anne transforma o Palais de Tokyo numa poderosa experiência imersiva, onde crueza e sutileza se equilibram perfeitamente em conteúdo e forma. Trinta artistas que a inspiram compõem a mostra em conjunto com seus próprios trabalhos.
Atuando em parceria com o escritório de arquitetura, Sub, a artista se apropria com maestria da arquitetura do Palais, criando labirintos através de estruturas opacas de metal que se parecem com painéis usualmente instalados às margens de rodovias. Spots de luz direcionados para antigas estruturas do prédio, muitas vezes chamando atenção para rachaduras e outros sinais do tempo, evidenciam a história ali escondida – o espaço já serviu como depósito de pianos e roupas durante a Segunda Guerra Mundial, embora tenha sido projetado para ser um museu de arte moderna convencional.
Na exposição, Anne cria um caminho a ser percorrido pelos passantes, e faz surgir obras contemplativas durante o percurso. Vemos seus quadros em degradês de cor através das estruturas opacas, numa sensação de voyeurismo e distância.
Anne Imhof, Untitled (Natures Mortes) (2021), óleo sobre tela; sete painéis, 250 × 175 cm (cada), Cortesia da artista, Galerie Buchholz e Sprüth Magers. No centro : Anne Imhof, Passage (2021), vidro, aço, madeira, acrílico, Cortesia da artista, Galerie Buchholz e Sprüth Magers. Na direita: Sturtevant, Finite Infinite (2010), video instalação em 4 canais (cor, som), 3 min 35 s (loop); Cortesia Air de Paris (Romainville); © Estate Sturtevant (Paris). Foto: Andrea Rossetti. Via Artviewer.
Em salas adjacentes, a reprodução de seu projeto apresentado na Tate Modern, Sex (2019), é a introdução adequada para o que está por vir. Desejo e violência pulsam nas imagens projetadas, onde performers repetem movimentos quase tediosos com espasmos de brutalidade, sempre vestidos com roupas que poderiam ter acabado de sair de um desfile da Balenciaga de Demna Gvasalia. Uma expressão aguçada do momento pós-capitalista em que vivemos, onde, parafraseando Mark Fisher, o desejo é intrinsecamente criado e remodelado pela força do capital. Sex fetichiza o desejo através da dança dos corpos — erotizados e transformados em veículos da mensagem de Imhof.
Em seguida, Elaine Sturtevant (1924) apresenta um vídeo em loop de uma pantera negra correndo em um campo aberto, o que nos remete à ansiedade e velocidade da vida em rede: estamos sempre correndo, sempre com pressa, sem aparentemente chegar a lugar nenhum. Não existe ponto A nem ponto B, apenas um loop infinito de um mesmo ato, como um Reel de Instagram, que cristaliza um pequeno espasmo temporal sem nenhuma conclusão aparente.
Anne Imhof, Natures Mortes (2021), vista da exposição, Palais de Tokyo, Paris. Wolfgang Tillmans, An Der Isar II (2008), c-print sobre Dibond, 181 × 258 × 6 cm. Foto: Andrea Rossetti, Cortesia da artista, Galerie Buchholz e Magers. Via Artviewer.
Wolfgang Tillmans (1968), é uma das figuras mais presentes na mostra. Assim como Anne, Tillmans nasceu na antiga Alemanha Ocidental e dividiu a paixão pela música eletrônica. Cada um à sua maneira, ambos registraram a vida noturna nos anos 90. Muito envolvida com a cena local, Anne foi bouncer (pessoa que deixa ou não pessoas entrarem em bares e boates) de uma boate de techno em Frankfurt, viveu em ocupações e produzia música. Já Tillmans, fotografou durante anos a cena post-punk em Londres, o que alavancou sua carreira e culminou no Prêmio Turner Prize, em 2000 (ele foi o primeiro não inglês a ganhar o prêmio).
Wolfgang Tillmans, Capodimonte (1999), C-print, moldura ; 30,5 × 40,6 cm, Cortesia Galerie Buchholz. Anne Imhof, High Bed Ii (2021), aço e colchão de espuma; 220 × 225 x 100 cm, Cortesia do artista, Galerie Buchholz e Sprüth Magers. Rosemarie Trockel, Shutter 2 (2010), cerâmica vitrificada; 95 × 68 × 5 cm, Cortesia Sprüth Magers; © Rosemarie Trockel. Cy Twombly, Achilles Mourning The Death Of Patroclus (1962), óleo sobre tela; 259 × 302 cm. Coleção do Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle, Centre Pompidou (Paris), Inv. AM2005-24 © Cy Twombly Foundation. Foto: Andrea Rossetti. Via Artviewer.
Jogando com noções aparentemente contraditórias de espaço e vazio, a ausência é a presença mais pulsante em toda a mostra. Seria impossível não reiterar como o trabalho de Eliza Douglas, musa e grande parceira criativa de Anne, tem grande peso e importância na mostra (e na carreira de Imhof em geral). Suas instalações sonoras, com risos, choros, conversas e afins são perfeitamente inseridas no espaço e entregam o ar soturno de Natures Mortes, com a justaposição de um colchão, um saco de pancadas de boxe, um microfone num palco vazio, a guitarra da artista, e por aí vai. Objetos que dependem do uso para fazer sentido nos lembram o tempo inteiro de corpos que não estão lá. A mostra, apesar de ter sido concebida para entrar em cartaz em 2019, aborda de maneira indireta, mas pontual, às questões que a pandemia trouxe: morte, distância, contemplação, mistério. Uma das três telas de Eliza Douglas profetiza: All Shall Fall – Tudo desmoronará, em tradução livre.
Paul Thek, La Corazza Di Michelangelo (1963), cerâmica, faiança (faiança) com fissuras brancas dos anos 50 e cera; 40 × 30 × 20 cm, Cortesia Deichtorhallen Hamburg – Falckenberg Collection (Hamburg); © The Estate of George Paul Thek. Eliza Douglas, Untitled (2020), óleo sobre tela; 210 × 160 cm. Coleção Nunzia e Vittorio Gaddi (Lucca); Cortesia da artista e Air de Paris (Romainville); © Eliza Douglas. Rosemarie Trockel, Shutter 2 (2010), cerâmica vitrificada; 95 × 68 × 5 cm, Cortesia Sprüth Magers; © Rosemarie Trockel. Foto: Andrea Rossetti. Via Artviewer.
Paul Thek, La Corazza Di Michelangelo (1963), erâmica, faiança (faiança) com fissuras brancas dos anos 50 e cera; 40 × 30 × 20 cm. Courtesia Deichtorhallen Hamburg – Falckenberg Collection (Hambourg / Hamburg); Foto - © Egbert Haneke. Via Artviewer.
Anne Imhof, Nature I (2021), Oil on canvas ; 175 × 250 cm. Cortesia da artista e Galerie Buchholz e Sprüth Magers. Na direita: Eliza Douglas, Untitled (2020), óleo sobre tela; 210 × 160 cm, Coleção Nunzia e Vittorio Gaddi (Lucca); Cortesia do artista e Air de Paris (Romainville); © Eliza Douglas. Foto: Andrea Rossetti. Via Artviewer.
Os demais artistas escolhidos por Imhof para compor a mostra vão de Delacroix a Oscar Murillo, passando por Cy Twombly e Joan Mitchell. Uma pequena geladeira com vegetais e frutas apodrecendo, de Adrián Villar Rojas faz jus literal ao nome da exposição. As cerâmicas de Paul Thek e Rosemarie Trockel emulam corpos apodrecidos e vísceras, escancarando que não somos nada além de pedaços de carne ambulantes em sistemas químicos complexos. A tapeçaria de Yung Tatu que retrata um coelho um tanto quanto bizarro, nos remete diretamente a Donnie Darko, filme cult dos anos 2000 que emula a mesma vibe mórbida & intensa produzida por Imhof.
Young Tatu, 2020a (2020); 150 × 80 cm, cortesia di artista. Foto: Aurélien Mole. Via Artviewer.
É impossível sair da mesma forma que entramos em Nature Mortes. A artista capta o zetgeist da última década e sabe o momento exato de se apropriar de símbolos fetichizados para entregar sua mensagem. Sejam eles o corpo andrógino em movimento de Eliza Douglas, construindo uma nova tecnologia de subjetividade, fora dos binarismos de gênero, as frutas podres de Adrian Villar Rojas, ou uma escultura de bronze do formato de um capacete. Aparentemente pessimista, quando aborda a morte a artista mostra a pulsão de vida e o erotismo inerente que estão por trás das trocas humanas. Escancara a mortalidade como a única certeza e, por isso mesmo, bela.
Àdrian Villar Rojas, Untitled (From The Series Rinascimento) (2017), escultura. Cortesia do artista e kurimanzutto e Marian Goodman Gallery. Foto: © Philipp Hänger/Kunsthalle Basel. Via Artviewer.
Àdrian Villar Rojas, Untitled (From The Series Rinascimento) (2017), escultura. Cortesia do artista e kurimanzutto e Marian Goodman Gallery. Foto: © Philipp Hänger/Kunsthalle Basel. Via Artviewer.