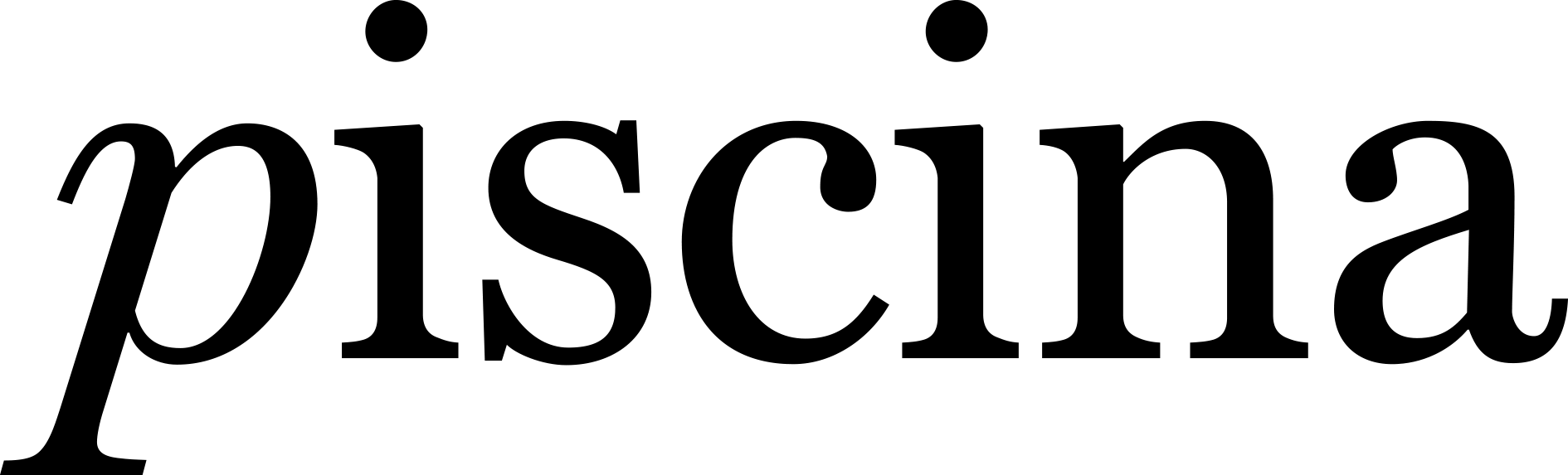Iconoclastas em ação
Muito se tem falado sobre o movimento das instituições culturais no sentido de decolonizar seus acervos e ressignificar as suas coleções como uma forma de revisitar a história da arte de forma mais inclusiva e menos eurocêntrica. A França e a Alemanha estão repatriando objetos que foram roubados de colônias durante os séculos de imperialismo. O debate sobre o assunto vem esquentando desde 2018, quando o economista Felwine Sarr e a historiadora da arte Bénédicte Savoy produziram um relatório ao governo francês a pedido do presidente Emmanuel Macron, onde afirmavam que todo e qualquer objeto apropriado através de ¨roubo, pilhagem, despojamento, trapaça e consentimento forçado’ deveria ser devolvido às suas origens. O assunto ganhou atenção considerável da mídia, o que acabou rendendo ao economista e à historiadora uma posição no topo da lista dos mais poderosos do mundo da arte. Porém, após as manifestações em torno da morte de George Floyd, nos Estados Unidos, quando estátuas de confederados foram derrubadas em todo o país, o debate sobre a função dos monumentos públicos e como eles refletem uma narrativa branca e opressora da História teve o seu ápice.
Imagem que ilustra a matéria Germany moves towards full restitution of Benin bronzes (Alemanha se encaminha para a restituição total dos bronzes do Benin) – The Art Newspaper, Março de 2021.
Não foram poucas as notícias sobre esculturas públicas sendo atacadas por manifestantes mundo afora e sobre como esses símbolos de poder precisam ser discutidos e revisados, por representarem a opressão dos que por milênios mataram, e continuam matando indivíduos em diversos cantos do globo.
Trabalhadores removem uma estátua do general confederado Robert E. Lee do Market Street Park no sábado em Charlottesville, Virgínia. Notícia via npr e imagem via Yahoo.
No centro do debate, um questionamento complexo: deve-se ou não retirar as estátuas do lugar? Estaríamos apagando a história ao retirá-las? Se retiradas, para onde devem ir? Devem ser revistas, contextualizadas e analisadas, ou destruídas? E, caso sejam mantidas em seus locais de origem, devem ser acompanhadas de alguma explicação?
Mas, por que o ataque a ícones do passado tem ganhado tanta importância atualmente?
Enquanto Macron ia à televisão em junho de 2020 para afirmar que ¨̈nenhum nome será apagado da história francesa e nenhuma estátua será derrubada¨, Trump, enquanto isso, ainda em exercício da presidência dos EUA, se referiu aos protestantes como vândalos.
Analisando a timeline dos acontecimentos, os iconoclastas voltaram a ser notícia em 2013, quando o Estado Islamico conquistou cidades como Mosul, no Iraque, e Palmira, na Síria e, nesse contexto, combatentes publicaram vídeos destruindo estátuas de deuses tidos como pagãos, muitos deles datados da era antes de Cristo.
Imagem que ilustra a matéria Why Islamic State wants to destroy the treasures of the ancient world (Por que o estado islâmico quer destruir os tesouros do mundo antigo) no Los Angeles Times, 2016.
Vivemos numa era de constante adequação à utilização de diferentes ferramentas das redes sociais. Construir sua própria narrativa pessoal está ao alcance de todos. Esta, por sua vez, fica arquivada e pode ser sempre consultada e editada. Opiniões ganham status de verdade absoluta quando os limites dos argumentos de autoridade são colocados em cheque. Nesse contexto de imagens pobres – de baixa resolução –, editáveis, e produzidas, onde deep fakes invadem os feeds, a construção de verdades coletivas fica cada vez mais difícil por conta da volatilidade do fluxo de informação. Portanto, nesse exercício constante de reescrita e reestruturação de narrativas, imagens de estátuas sendo destruídas viram símbolos em si mesmas, ganhando um caráter sagrado. A destruição é a própria criação de uma nova verdade, e a primeira depende da segunda para existir. O ataque em si é muito mais relevante do que a ausência do objeto-alvo: vira um espetáculo midiático pronto para ser viralizado.
Por outro lado, a permanência intacta desses monumentos significa estar de acordo com os seus significados. Analisemos, por exemplo, algumas das estátuas que se encontram na frente do Museu D´Orsay, em Paris. São seis estátuas que representam 6 continentes, cada qual representado por uma figura feminina. Produzidas para a exposição universal de 1878, logo após a França ter se recuperado da guerra contra a Prússia e de onde saiu perdedora, a superexposição trouxe pessoas de toda a Europa e foi a maior do mundo à época.
Em um primeiro momento, é interessante notar que, ao longo da História, a grande maioria das representações clássicas de virtudes e continentes, são caracterizadas por figuras femininas, enquanto figuras históricas são geralmente masculinas. Das seis estátuas em questão, apenas Europa e Ásia estão calçadas. A Europa, com vestes similares às de guerreiros romanos, tem ao seu lado objetos que simbolizam a arte, a sabedoria e a medicina. A Europa é assim, detentora de todo componente humano do conjunto.
A Ásia, por sua vez, está levemente despida. A América do Norte é representada por uma nativa, e pergunto-me se no contexto da época isso deveria ser um reflexo do olhar simplista do colonizador perante os povos originários, ou simplesmente uma maneira de afirmar a inferioridade do continente através dos olhos dos europeus. Fico com a segunda opção. Ironicamente, América do Sul tem traços de europeia, em uma alusão à prática de genocídio higienista somado a séculos de política de embranquecimento que se deram nas antigas colônias ibéricas. Ao seu lado, assim como em cada uma das estátuas, elementos “exóticos” que teoricamente representam cada um dos continentes. No caso da América do Sul, frutas tropicais e um corvo. Já a África pisa em uma tartaruga e a Oceania, está acompanhada de cangurus.
Não apenas sexistas, mas também racistas e xenófobas, estas estátuas contam a história do colonialismo e da dominação da Europa em relação ao resto do mundo, visto como exótico e selvagem. O fato destas estátuas se encontrarem na frente de um dos museus mais importantes do mundo, sem nenhum tipo de contextualização, nos faz crer que a instituição ou é indiferente a essas questões, ou concorda com o seu ponto de vista. As duas opções são condenáveis.
Helio Menezes é categórico em afirmar que monumentos excludentes devem ser retirados, e sua recontextualização não apaga a história, pelo contrário, "informa o que já não se pode mais tolerar". Nesse caso, a permanência destas é tão condenável quanto as estátuas de escravagistas nos Estados Unidos ou Brasil.
Devemos, sim, notar, protestar e reclamar uma nova leitura desses símbolos, e também fazer do espaço público um lugar com mais representações de grandes mulheres que foram apagadas da História, seja em Paris, Nova Iorque, ou no Rio de Janeiro. A destruição da estátua de Borba Gato em São Paulo (um bandeirante escravagista) é um bom sinal: existe uma organização de grupos civis dispostos a contestar o status quo, que no atual contexto brasileiro insiste no impedimento de narrativas dissidentes ativas.
Estátua de Borba Gato em chamas na avenida Santo Amaro, em São Paulo; manifestantes atearam fogo em protesto ao papel do bandeirante na escravidão de índios (Gabriel Schlickmann/IShoot/Estadão Conteúdo). Via Exame.
Projetos como o Statues For Equality ou o Abaixo Assinado do Guia Negro são necessárias, e deveriam contar com a atenção e apoio do poder público, em prol de uma construção de uma coletividade mais inclusiva e justa.